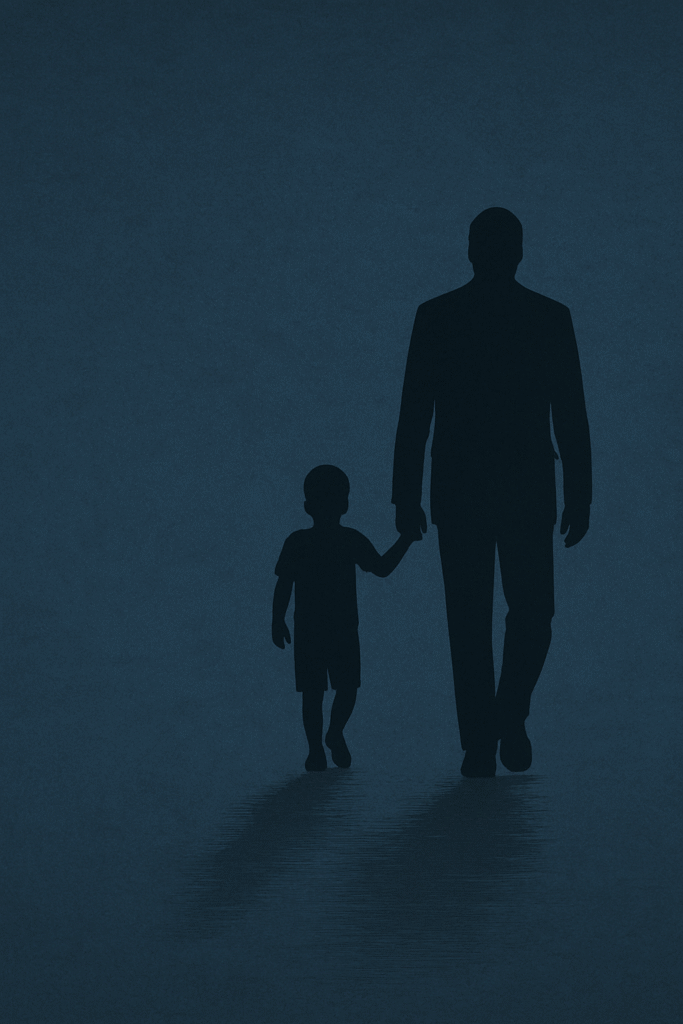Vivemos tempos em que a presença do pai deixou de ser presumida como um bem. Na contramão do discurso dos direitos iguais e da valorização dos vínculos familiares, emerge uma cultura institucional e simbólica que naturaliza — e até celebra — a ausência paterna. A paternidade, em muitos contextos, não é mais incentivada: é combatida, direta ou indiretamente, por práticas sociais, discursos ideológicos e políticas públicas enviesadas. Nesse cenário, a figura paterna se vê deslocada, desvalorizada e, em última instância, substituída por uma concepção unilateral de cuidado, que ignora os efeitos deletérios dessa exclusão sobre as crianças e sobre a própria estrutura social.
A obra Fatherless America: Confronting Our Most Urgent Social Problem (1996), de David Blankenhorn, permanece uma das mais contundentes denúncias desse processo. Ao invés de interpretar a ausência paterna como uma exceção trágica ou uma consequência pontual de conflitos conjugais, Blankenhorn trata o fenômeno como uma tendência sistemática, reforçada cultural e institucionalmente, que desestrutura os fundamentos da vida comunitária. Seu diagnóstico é claro: não se trata apenas de pais ausentes, mas de uma sociedade que escolheu funcionar sem eles.
O autor identifica uma desconstrução programada da figura paterna, promovida por meios de comunicação, políticas estatais e até mesmo pela jurisprudência familiar. Em programas televisivos, o pai é frequentemente retratado como incompetente, inconveniente ou desnecessário. Em muitas decisões judiciais, sua presença é tratada como acessória, enquanto a maternidade é rigidamente colocada como o centro exclusivo do afeto e da autoridade. Essa cultura tem por consequência um declínio na responsabilidade paterna, mas também, e mais gravemente, uma perda na capacidade coletiva de transmitir valores, limites, afeto e cidadania às novas gerações.
Ao reunir dados empíricos, Blankenhorn demonstra que crianças que crescem sem a figura paterna presente estão mais propensas à evasão escolar, envolvimento em condutas infracionais, quadros de depressão, dificuldades de socialização e reprodução de relações afetivas instáveis. Não se trata de culpabilizar mães solo, que muitas vezes enfrentam essas batalhas sozinhas com extrema dignidade, mas de denunciar uma engenharia social que converte a ausência em regra e a presença em exceção judicialmente contestada. O resultado é um ciclo de desagregação que amplia desigualdades, acirra conflitos e desmoraliza a função educativa da família.
No campo institucional, a crítica de Blankenhorn é ainda mais aguda. Ele aponta que as leis de custódia, as práticas dos tribunais de família e as políticas de assistência social muitas vezes relegam o pai a um papel marginal, quando não o excluem completamente da vida dos filhos. A guarda unilateral é concedida sem o devido contraditório, medidas protetivas são banalizadas e a mediação parental é desestimulada. No Brasil, esse panorama não é diferente. Leis aparentemente “bem-intencionadas”, mas sem a devida análise de impacto social, têm sido deturpadas por interpretações que, em nome da proteção, sacrificam o devido processo legal e o direito ao convívio familiar, atropelando princípios fundamentais caros à nossa Constituição.
Combater essa cultura da exclusão paterna exige mais que denúncias. É preciso reabilitar a paternidade como função essencial à formação humana. O pai não é substituível por assistentes sociais, psicólogos escolares ou redes digitais. Ele é — ou deveria ser — agente ativo na transmissão de valores, na proteção moral da criança e no fortalecimento dos vínculos afetivos duradouros. Trata-se de recuperar o papel do pai como educador do caráter, e não apenas como fornecedor de recursos ou figura eventual nas visitas supervisionadas.